A teoria das cicatrizes da depressão


Escrito e verificado por a psicóloga Valeria Sabater
A teoria das cicatrizes da depressão nos diz que, em alguns casos, ter sofrido desse distúrbio psicológico pode afetar a nossa personalidade. Dois dos seus efeitos seriam a vulnerabilidade e a baixa autoestima.
O cérebro sofreria algumas pequenas alterações em sua estrutura que afetariam certos aspectos da nossa resistência psicológica. Os dados são, ao mesmo tempo, alarmantes e controversos. Isso porque, em muitos casos, a própria baixa autoestima já é um fator de risco para o desenvolvimento e o aparecimento dessa condição. Ou seja, em outras palavras, sempre existem alguns fatores de risco que aumentam a probabilidade de sofrer de um transtorno do humor.
No entanto, essa abordagem sugere que lidar com a depressão deixa sequelas em nível orgânico que aumentariam, por exemplo, o risco de recaídas. Por enquanto, os neurocientistas nos dizem que essa teoria explicaria por que algumas pessoas são mais vulneráveis a certos problemas de saúde mental, enquanto outras são mais “ resilientes ”.
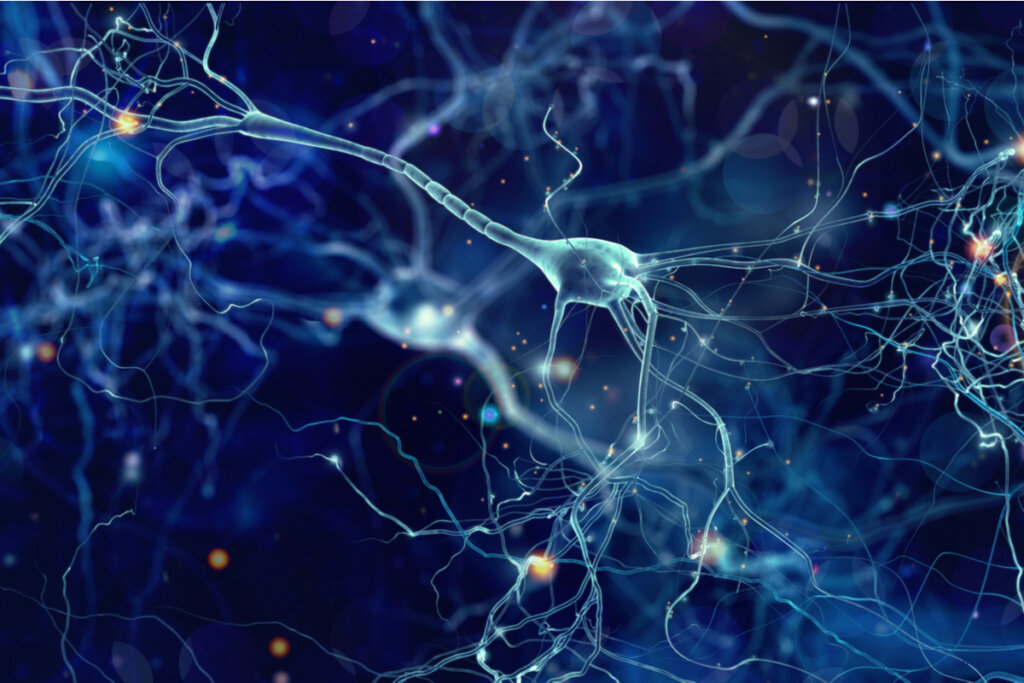
Em que consiste a teoria das cicatrizes da depressão?
A teoria das cicatrizes da depressão sugere que há um efeito causal da própria psicopatologia em certas mudanças de personalidade. Essa relação de causa-efeito aparece quando há uma depressão maior e, de forma geral, não se recebe tratamento. Assim, a longa duração, juntamente com a falta de abordagem terapêutica, leva a uma alteração na funcionalidade cerebral.
Foram os cientistas Mathias Aleman, Andrea E. Grünenfelder-Steiger e Christoph Flückiger que falaram sobre este modelo interessante em um estudo de 2018. Neste trabalho, é proposto que sofrer repetidamente de um transtorno do humor terá (em algumas ocasiões) consequências biológicas, psicológicas e cognitivas.
Para entender essa realidade neurológica, é aconselhável ter em mente um detalhe. A neuroplasticidade é o mecanismo fundamental de defesa neural diante do estresse. Graças a ela, a função sináptica, bem como os mecanismos moleculares e celulares podem reagir a essas alterações neurológicas que geram a depressão. No entanto, quando um transtorno depressivo não recebe tratamento, a neuroplasticidade é reduzida.
Devemos ver a depressão como um fenômeno clínico multifatorial no qual intervêm fatores genéticos, de personalidade e também contextuais ou sociais.
Como a depressão maior afeta o cérebro
A teoria das cicatrizes da depressão insiste no fato de que o cérebro muda como resultado desse transtorno psicológico. Há um estudo que destaca essa relação. Sofrer de depressão maior (a mais grave) pode retardar a recuperação e até mesmo deixar sequelas.
As mudanças que podem surgir afetam tanto a sua estrutura quanto a sua funcionalidade. São as seguintes:
- Existem regiões do cérebro que podem apresentar um encolhimento da sua estrutura, como é o caso do hipocampo. Essa área relacionada à memória, às emoções e também à aprendizagem pode fazer aumentar a desesperança e dificultar o armazenamento de novas informações.
- O tálamo, que regula o sono, o estado de alerta e a vigília, é outra estrutura que também pode ter o seu tamanho reduzido.
- O córtex pré-frontal, essencial para a realização das funções executivas (tais como planejar, controlar impulsos e regular emoções), também sofre alterações na depressão maior.
- A Universidade de Yamaguchi publicou um estudo mostrando como os transtornos depressivos reduzem o suprimento de oxigênio para o cérebro. Isso causa desde falhas de memória até problemas de atenção.
- Os altos níveis de cortisol liberados durante um episódio depressivo também alteram a amígdala cerebral, hiperativando-a. Isso aumenta a sensação de ameaça, alerta e medo.
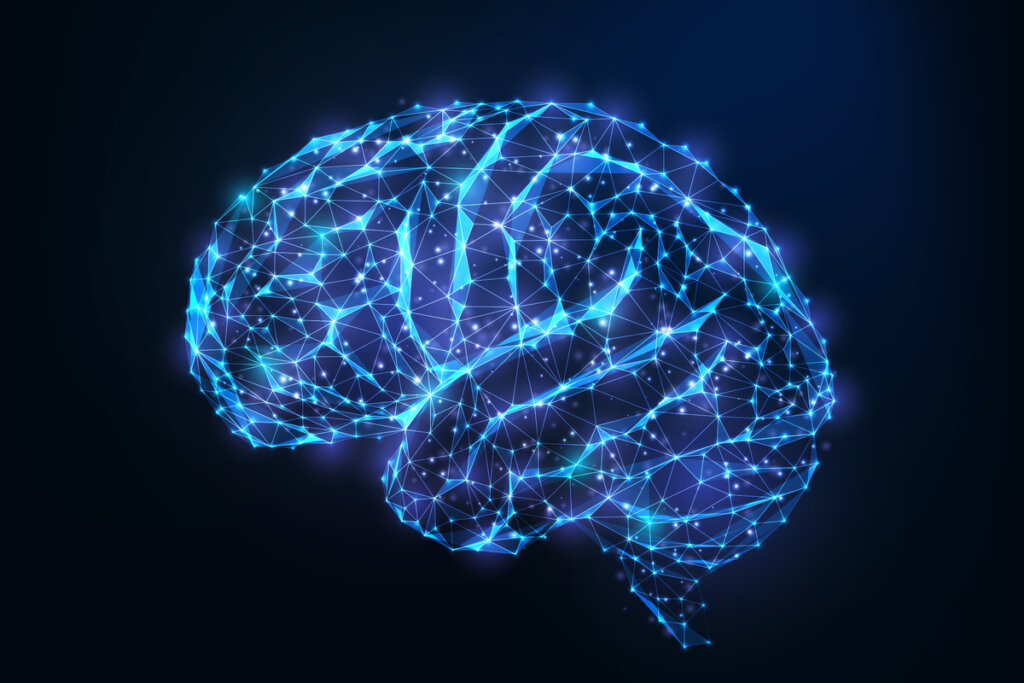
A teoria das cicatrizes da depressão: existe algum tratamento?
Durante os últimos anos, foram observados progressos notáveis no tratamento da depressão maior. A estimulação cerebral profunda é uma abordagem terapêutica promissora para este tipo de condição psicológica. De fato, esse paradigma teve grande evolução e está mudando a qualidade de vida de muitas pessoas desde 1995.
- A estimulação magnética transcraniana (EMT) é um procedimento não invasivo no qual há a aplicação de uma série de campos magnéticos para estimular certas áreas do cérebro.
- A estimulação dessas células nervosas no cérebro reduz os sintomas do transtorno depressivo, melhorando assim o estado de humor.
- A pessoa não sente nenhuma dor ou desconforto. Afinal, consiste em simplesmente colocar uma bobina eletromagnética perto da testa.
- Em média, o tratamento consiste em 20 sessões diárias de estimulação magnética transcraniana com duração de 30 minutos.
Cabe destacar que esta abordagem clínica geralmente é utilizada quando a terapia psicológica e o tratamento farmacológico não têm efeito sobre o paciente. Além disso, também quando há várias recaídas. Até o momento, o sucesso alcançado com esta técnica é muito positivo, assim esta é sempre uma opção interessante que vale a pena considerar.
De qualquer forma, há um aspecto evidente. As mudanças na personalidade e essa maior vulnerabilidade mental associada à depressão aparecem apenas quando não se ativa nenhum mecanismo de enfrentamento. Portanto, essa é a chave: procurar ajuda especializada ao nos depararmos com essa forma de desesperança contínua, com esse desconforto emocional que não dá descanso nem trégua.
Todas as fontes citadas foram minuciosamente revisadas por nossa equipe para garantir sua qualidade, confiabilidade, atualidade e validade. A bibliografia deste artigo foi considerada confiável e precisa academicamente ou cientificamente.
- Allemand M., Grünenfelder-Steiger A.E., Flückiger C. (2018) Scar Model. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_855-1
- Rizvi, S., & Khan, A. M. (2019). Use of Transcranial Magnetic Stimulation for Depression. Cureus, 11(5), e4736. https://doi.org/10.7759/cureus.4736
- Trifu, S. C., Trifu, A. C., Aluaş, E., Tătaru, M. A., & Costea, R. V. (2020). Brain changes in depression. Romanian journal of morphology and embryology = Revue roumaine de morphologie et embryologie, 61(2), 361–370. https://doi.org/10.47162/RJME.61.2.06
Este texto é fornecido apenas para fins informativos e não substitui a consulta com um profissional. Em caso de dúvida, consulte o seu especialista.







